Na noite de 14 de agosto de 1791, nas imediações de uma das mais tradicionais fazendas de São Domingos, então colônia francesa, é realizada a cerimônia de Boïs-Caïman, marco inaugural da maior insurgência escrava do mundo moderno. Conduzida por “Zamba” Boukman, líder político e sacerdote vodu, proclama um chamado às armas e o compromisso de luta pelo fim do cativeiro, expresso na frase eternizada pela história: escutem a voz da liberdade que fala nos corações de todos nós.
São Domingos não era qualquer colônia. Para a França, a metrópole em maior expansão no final do século XVIII, era A colônia, ou como se falava na época: a pérola das Antilhas. Maior mercado individual de escravizados do mundo, produzia metade do açúcar e do café consumido no planeta. No coração de um mercado internacional em acelerada expansão, representava o ápice do capitalismo. O segredo sujo da “infância” do capital é sua íntima, intrínseca, relação com o colonialismo. Cerca de um milhão dos 25 milhões de franceses dependiam diretamente do comércio colonial e 15% dos mil membros da “revolucionária” Assembleia Nacional possuíam propriedades coloniais em 1789. As fortunas criadas em Paris, Bordeaux e Nantes, fundamentais para a luta da “emancipação humana” que irrompeu na França, foram geradas graças à desumanização brutal de pessoas negras do outro lado do Atlântico. Pessoas que tomariam a luta por liberdade à sua maneira e a elevariam a outro patamar: o universal, afinal, não descansava sobre a Europa, mas era encarnado nas mãos ex-escravizadas no Caribe.
Recalibrando o universal diante da escravidão
Entre 1791 e 1804, liderados por Toussaint Louverture, Jacques Dessalines, Alexandre Petión, Henri Christophe e outros, as massas haitianas protagonizaram um ousado embate contra as forças coloniais, derrotando sucessivamente 60 mil soldados ingleses e 43 mil franceses. Em janeiro de 1805, é declarado o primeiro Estado independente construído por ex-escravizados e negros libertos. Nas cartas constitucionais pós-Revolução, reescreviam o ideal de liberdade diante da experiência da escravidão e da ainda presente ameaça do colonialismo. A igualdade universal era declarada e, no mesmo gesto, afirmava-se a diversidade e a diferença humana. Ali nascia uma nação cujos filhos foram repudiados injustamente e por tanto tempo, como estabelecia o preâmbulo da primeira Constituição do Haiti independente.
A ressignificação dos ideais universais de liberdade e igualdade, por sujeitos que viveram os horrores do colonialismo e da escravidão, ia do nome Haiti – nome dado à Ilha de São Domingos pelos seus primeiros habitantes, o povo indígena taino – ao programa político do novo estado-nação. Nele, todos os habitantes haitianos deveriam ser tratados como “negros”. No entanto, diferentemente do restante do mundo colonial, “negro” ali era sinônimo de liberdade, como cantado no samba. Ao passo que foram abolidas todas as hierarquias baseadas na cor da pele, a cidadania passava a ser reconhecida e atribuída conceitualmente por meio do termo que os colonizadores utilizavam para desumanizar.
Negro passava a significar não a cor de pele ou o lugar de origem, uma vez que polacos e alemães que participaram na guerra de independência, africanos ou indígenas americanos de outras localidades podiam se tornar cidadãos haitianos: tornavam-se, portanto, negros também. Todos aqueles que potencialmente pudessem ter sido vítimas da escravidão e do genocídio podiam ser haitianos, logo cidadãos do Haiti, logo negros. Neste particularismo que afirma o universal, o signo negro, herdado do vocabulário colonial, era ressignificado para afirmar a universalidade contida na categoria cidadão. Com isso, afirmava também que não há como se falar em cidadania no mundo moderno sem um acerto de contas radical com a experiência da raça e da escravidão. Era a declaração dos direitos do negro e do cidadão: o signo racial, antes utilizado para limitar, universalizava-se como sinônimo de humanidade.
O problema da escravidão não era uma abstração filosófica, como na teoria iluminista dos proprietários europeus, ou apenas uma parte dos direitos individuais e sociais, a exemplo da Constituição Francesa de 1795. Aparecia como uma questão dos “habitantes” do Haiti, um aspecto central da constituição política e parte dos fundamentos indispensáveis da entidade geopolítica da nova nação. O Haiti é fundado para garantir a liberdade e acabar com a subordinação racial, adotando uma postura antiescravista radical e propondo um movimento transnacional, internacionalista e anti-imperialista – cosmopolitismo revolucionário articulado por uma cidadania diaspórica exercida em um território quilombola no meio do Caribe.
A universalidade do colonialismo
Essa postura radical, enraizada no próprio processo revolucionário, ilumina uma outra história da liberdade no mundo moderno. São os eventos em São Domingos, e não a filantropia dos europeus, que levam o poder legislativo francês a garantir os direitos políticos dos homens livres de cor, em 1792, e a abolir a escravidão em todas as suas colônias, em 1794. Após a chegada de Napoleão ao poder e a restauração da escravidão, é o espírito de liberdade dos haitianos que derrota a última investida francesa no ano de 1803, que tinha o objetivo de destruir todos os negros, homens e mulheres, e poupar apenas crianças menores de doze anos.
A sanha assassina dos franceses contra o Haiti não cessaria com a vitória da Revolução. Diante do embargo econômico e político das demais nações, o Haiti se viu obrigado, em 1825, a negociar o reconhecimento diplomático com a França, que só aceitou dialogar caso o pequeno país caribenho aceitasse pagar uma pesada dívida pela independência. Assim, após enviar contadores e atuários para a Ilha, que contabilizaram todas as terras (cultiváveis ou não), bens físicos, o número de pessoas antes escravizadas, propriedades e serviços, a França impôs um tratado em condições estruturalmente desiguais, permeadas pelo isolamento e pela ameaça militar. O empréstimo para saldar a dívida só poderia ser realizado com bancos franceses e era transferido diretamente para o tesouro do país europeu. O débito foi renegociado em 1834 e 1860, e a dívida principal só foi paga em 1883.
As taxas, juros e comissões de empréstimos, todas exorbitantes e abusivas, foram eventualmente assumidas por bancos estadunidenses no início do século XX e só saldados em 1947. Para pagar o devido, o Haiti teve que nacionalizar o débito e direcionar bruscamente sua agricultura e política econômica, representando quase 70% da renda obtida com o comércio exterior. Foi para garantir o pagamento, bem como os interesses açucareiros da Sugar Company, que os EUA ocuparam o Haiti entre 1915 e 1934. Nessa época, os estadunidenses passaram a controlar o Tesouro Nacional e as instituições alfandegarias haitianas, e impuseram uma reforma constitucional que permitiu a posse da terra aos estrangeiros (proibida desde a independência em 1804). Para se ter uma dimensão, em 2003, a dívida seria de cerca de 21 bilhões de dólares – em 2016, o PIB haitiano era de 19 bilhões, o da França, 2,5 trilhões.
Neste sentido, o Haiti é um evento que conecta as duas grandes fases das políticas imperiais: o escravismo atlântico e o colonialismo. Por um lado, demonstra como todos os negros no mundo tiveram que pagar pela sua liberdade, constituindo o capital branco. O Haiti arcou como Estado aquilo que indivíduos pagaram com o esforço do seu trabalho para comprar manumissões e cartas de alforria por toda a América. Estava inaugurada uma faceta oculta da lógica racial do rentismo capitalista: o valor não decorre somente do trabalho, mas do reconhecimento da liberdade de sujeitos não-brancos. Ao ter sua soberania reconhecida em condições de extrema subordinação política e econômica, o Haiti aproxima-se das histórias vividas pelos países africanos no pós-descolonização do século XX – no plano internacional, a soberania de um Estado negro só é possível dentro de uma lógica de dependência.
O vento universal da liberdade
A africanidade da Revolução Haitiana deve também ser vista por outro lado. Na medida em que os insurgentes eram na sua maioria da África, a influência do continente permeou a lógica revolucionária, expressa nas táticas de guerrilha e quilombagem nas montanhas, nas lideranças descentralizadas, na eticidade bantu e na conformação da língua crioula, pela qual circulavam as sedições insurgentes longe do entendimento colonial. Ademais, o acontecimento pode ser entendido como uma luta precursora das revoluções por descolonização africanas e dos demais países periféricos. O Haiti não deve ser visto, portanto, como um mero capítulo da Revolução Francesa, mas como um processo revolucionário a partir de si mesmo, com um programa político próprio que lidava diretamente com o problema colonial. É a partir desse olhar que se entende outro aspecto da universalidade haitiana: o seu impacto concreto nas táticas de resistência e dominação que surgiram na esteira da Revolução.
A liberdade da América Latina começa no Haiti. Após serem derrotadas pela reconquista espanhola em 1815, os criollos latino-americanos se refugiam na Jamaica, buscando apoio da Inglaterra para a luta por independência. Após a recusa dos britânicos, rumam para o Haiti, onde Simón Bolívar se reúne com Alexandre Petión, então presidente. Após tratativas, Petión concorda em prestar auxílio militar, político e econômico aos insurgentes sul-americanos. Com armas, mantimentos e dinheiro fornecidos pelos haitianos, partem da Ilha as duas expedições que irão retomar a luta no continente e iniciar o processo de independência do que hoje se entende como Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Bolívia. Ou seja, o apoio do Haiti é o evento inaugural que tornou possível a libertação latino-americana. Evento silenciado pela memória dominante. Silêncio que paira sobre as condições do acordo entre Petión e Bolívar – diferentemente do que se convencionou chamar diplomacia moderna, o Haiti não quis nada em troca, exceto a abolição da escravidão em todos os territórios liberados na América. Nada mais condizente com a política antiescravista radical que fundava o Estado negro. Ainda que a promessa seja cumprida por Bolívar nas primeiras vitórias sobre os espanhóis, ela vai sendo paulatinamente abandonada pelos criollos. Os negros das novas repúblicas sul-americanas ainda teriam que lutar mais alguns anos pela chegada total da abolição.
O Haiti também inspiraria insurgentes escravizados por todo o Atlântico. Em Cartagena, durante os conflitos com espanhóis, era possível ver bandeiras haitianas tremulando pelas casas de Getsemaní, bairro histórico dos negros na cidade e onde foi dado o primeiro grito de independência da Colômbia. Em 1800-1801, na Virginia nos EUA, durante a Rebelião de Gabriel Prosser, o líder citava São Domingos como referência de luta. No Brasil, por todo o século XIX, eram comuns os rumores de que os levantes negros faziam parte de uma conspiração internacional desencadeada pela Revolução Haitiana. Formações de quilombos, insurgências urbanas, como os Malês, e fugas constantes eram motivos para evocar o pânico do haitianismo.
A imaginação libertária haitiana adentra no século XX: nas pinturas de Toussaint Louverture durante o Renascimento do Harlem; como fundamento da ancestralidade revolucionária dos movimentos de negritude; na circulação dos Jacobinos Negros de CLR James por infinitas mãos, como as de Martin Luther King, Louis e Lucille Armstrong, Kwame Nkrumah e dos estudantes sul-africanos lutando por outro tipo de história em meados dos anos 90. Nos romances, novelas e prosas de Alejo Carpentier, Aimé Césaire, Edouard Glissant, Juan Bosh, Vicente Placoly, Jean Métellus, George Lamming e Derek Walcott.
Por outro lado, no mundo inteiro foi montado um aparato anti-Haiti. Se os haitianos afirmavam a universalidade dos direitos humanos independentemente da cor da pele, na Europa surgiam as doutrinas do racismo científico como uma forma de limitar o universal. A democracia e os direitos fundamentais só eram acessíveis, passou-se a dizer, aos seres racialmente superiores: uma ciência eugênica como uma resposta direta ao Atlântico revolucionário.
Nas Américas, são montados estados-nação fundados na negação de um São Domingos interno. Nos EUA, é publicada a Lei de Insurreição de 1807, uma das primeiras fendas no sistema federalista. Surgida como demanda da classe escravista diante do medo de uma rebelião negra generalizada, permite o uso de forças federais para suprimir insurreições nos estados. Essa Lei continua em vigor e foi utilizada pela última vez em 1992 contra as manifestações negras em Los Angeles, no caso Rodney King. Neste ano, Trump se valeu dela para ameaçar os protestos antirracistas, logo após o início das mobilizações que varreram o país após o assassinato de George Floyd.
Na América Hispânica, líderes negros revolucionários da independência, como José Prudencio Padilla e Manuel Piar, são executados no alvorecer das repúblicas, sob a sombra do haitianismo. Magnicídios que transmitem uma mensagem sobre o lugar dos descendentes de africanos nas novas nações latino-americanas. No Brasil, é o medo do Haiti que funda a solução monárquica e um Estado centralizado, capaz de responder às revoltas populares com coesão e coerência política, e que retira a possibilidade de qualquer tipo de cidadania aos africanos, ainda que libertos, na Constituição de 1824. Esse temor também será reativado em diferentes momentos do século XIX pelas elites políticas brasileiras, especialmente diante do fim do tráfico negreiro e da escravidão: o medo da rebelião escrava e de um novo Haiti dará unidade à classe senhorial e é o que permitirá a salvaguarda de interesses econômicos e do poder político, ambos fundados na subcidadania negra em um projeto de nação branco.
Ainda que silenciado pela narrativa dominante, o Haiti foi evento universal – estava por todos os lugares. Agiu como motor do antagonismo político, balizando táticas de insubordinação e de dominação. Inscreveu-se nas estruturas fundantes da modernidade.
O devir haitiano
Segundo o filósofo camaronês Achille Mbembe, as experiências escravistas e coloniais legaram uma lógica de poder e dominação baseada na permissividade e em tecnologias sobre corpos, terras e tempo. Práticas de zoneamento, cercamento e loteamento; a economia da violência; e o desapossamento das matrizes do possível são as características fundantes do poder colonial. Essa estrutura de dominação dependia, lá na ponta, do estabelecimento de um indivíduo como escravo. Na modernidade atlântica, esse escravo foi o negro. O signo negro era o átomo da política de morte moderna. Mbembe diz que essa condição de desumanidade, antes reservada aos genes de origem africana no primeiro capitalismo, passa a se esparramar por toda a humanidade. A institucionalização e universalização desse caráter descartável e solúvel como padrão de vida é o que ele chama de devir-negro do mundo.
O devir-negro do mundo é o Apocalipse. Como escreve o escritor dominicano Junot Díaz, a história haitiana é recheada de “apocalipses”: os horrores do genocídio indígena, da escravidão e do colonialismo; a guerra revolucionária, que reduziu a população da Ilha em 40%; as décadas de embargo econômico, usurpação financeira e isolamento político; as intervenções imperialistas; o Massacre de 1937 praticado pelos seus vizinhos dominicanos; as ditaduras dos Docs; e, mais recentemente, o terremoto de 2010. Junot afirma que os “apocalipses” nos permitem enxergar aspectos do nosso mundo que preferimos ignorar, escondidos por trás de negações. Mais do que isso: os “apocalipses” iluminam que qualquer catástrofe não é um evento natural e sim social – que o modo como levamos o nosso cotidiano produz incessantemente a possibilidade de um novo Apocalipse.
O teórico haitiano Michel-Rolph Trouillot argumenta que o silêncio produzido sobre a Revolução Haitiana é a negação fundamental da modernidade. Esse esquecimento deliberado é o que permite construir narrativas de progresso, democracia e avanço dos direitos humanos sem prestar contas do sangue derramado. Permissão que possibilita um novo Apocalipse na próxima esquina – a própria universalização da condição do fim do mundo. Foi contra essa condição que os haitianos se reuniram naquele 14 de agosto em Boïs-Caïman e lutaram por mais de uma década contra uma realidade que lhes impunha viver como escravizado ou morrer. E no final do processo, contra toda a lógica moderna, afirmaram que o devir negro não era a morte, mas a vida, a liberdade. Nessa ressignificação, em que o devir negro se transmuta em devir haitiano, rejeitaram a vida como mortos-vivos no fim do mundo.
São nos dilemas universais legados pela Revolução Haitiana que se encontram as chaves para a torção histórica – fazer do impensável o inevitável. Transformar o devir negro em devir haitiano como condição de, mais uma vez, impedir o Apocalipse.
Sobre os autores
é editor da Jacobin Brasil e Doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).
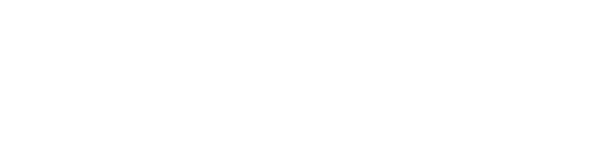































[…] heróica dos esforços dos revolucionários do Haiti – no que Marcos Queiroz chama de “a mais universal da revolução” – inspire no nosso tempo novas “erupções vulcânicas”, capazes de pôr a sociedade mais […]
[…] no Caribe que se deu a mais universal das revoluções, quando os “jacobinos negros”, no popular termo do trinidiano C.L.R. James, romperam as […]
[…] e anticapitalista, e Muniz a incorpora e atualiza em seus relatos. Lembro aqui do famoso episódio que deu início à Revolução Haitiana: o ritual ocorrido na floresta conhecida como Bois Caiman, em 1791, quando os guerreiros liderados […]