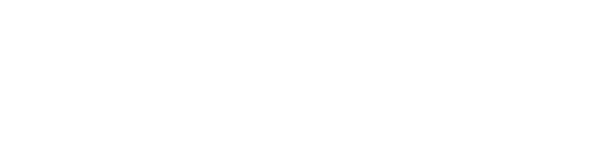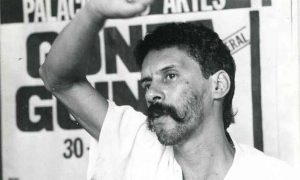O texto a seguir foi publicado na 6ª edição impressa da Jacobin Brasil sobre “Esquerda e poder”. Adquira a sua edição avulsa ou assine um de nossos planos!
Em resposta à depredação das sedes dos três Poderes da República por bolsonaristas acumpliciados com a cúpula do Exército, o presidente Lula produziu uma das imagens de maior força simbólica deste seu início de mandato: no dia 9 de janeiro, desceu a rampa do Palácio do Planalto e caminhou até o Supremo Tribunal Federal de braços dados com ministros e a presidente desta Corte, junto aos 27 governadores, o presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente do Senado e mais um cortejo de políticos. Contra a ameaça fascistóide, a encenação republicana da “união e reconstrução” prometidas pelo lema do novo governo.
Não há dúvidas sobre o acerto do hábil gesto articulado por Lula, que atuou para rapidamente isolar a extrema-direita. Sabemos, entretanto, que a democracia não será salva pelas juras de amor a ela por parte de figuras como Arthur Lira, Augusto Aras e Tarcísio de Freitas, presentes na reunião do dia 9 de janeiro. Para desarmar o bolsonarismo, desmantelando as bases de seu poder nos quartéis, nas polícias, nos tribunais, na Faria Lima, nas milícias urbanas, rurais e digitais, não bastarão os acordos pelo alto ou as manifestações de apreço pelas instituições vindas dos seus próprios palácios. A República, como o sabiam já os antigos, somente sobrevive quando é defendida desde suas bases, pela mobilização cidadã, e não apenas desde seus cumes. Do contrário, perece.
A violação golpista das instituições republicanas não foi somente simbólica; os bolsonaristas destruíram patrimônio histórico cultural, depredaram obras de arte, promoveram um espetáculo grotesco de devastação. Em certo sentido, realizaram um ato de profanação da democracia, ultrajando espaços, bens e símbolos a que o tratamento republicano costuma reservar máximo respeito e mesmo a reverência destinada àquilo que é sagrado. A caminhada encabeçada por Lula do Palácio do Planalto até o STF pode ser vista como rito que procurou restaurar a sacralidade dessas instituições.
“Profanar” pode ter um significado radicalmente diferente, no entanto, conforme a análise arqueológica feita por Giorgio Agamben, em seu Elogio da profanação. Para os romanos, as coisas sagradas ou religiosas não estavam disponíveis para o uso comum dos homens. Mediante ritos de consagração, eram reservadas exclusivamente aos deuses. Profanar era o exato oposto, tratando-se de restituir ao uso comum o que havia sido separado na esfera do divino. Os ritos profanadores não apenas retomavam usos anteriores à consagração, mas abriam possibilidades de criação de novos usos humanos para as coisas profanadas.
É nesse sentido da palavra, no rastro de Agamben, que Fran Alavina argumenta sobre a necessidade de profanar a democracia representativa. Não como procedimento fascista de destruição da democracia, não por meio de ritos violentos de ódio à soberania popular e ao pluralismo político, como vimos no 8 de janeiro, mas o exato oposto disso. Profanar para desfazer a separação entre pessoas comuns e as instituições de poder inacessíveis para elas, reservadas para representantes “consagrados” pelo rito eleitoral ou para juízes com suas capas pretas e linguagem esotérica.
A profanação da democracia trataria de restituí-la ao uso comum do povo, recriando a representação política a partir de mecanismos de maior controle pelas bases e estabelecendo formas de participação social que não sejam meramente testemunhais, mas efetivas. Criar poder popular, em suma, como prática de uma democracia profana, não pertencente a um mundo sagrado diante do qual o homem e a mulher comuns deveriam abaixar a cabeça, em atitude de respeito, temor e reverência. Isto se aplica também ao sistema de justiça.
Não nos cabe blindar acriticamente Poderes historicamente vinculados à organização e legitimação da exploração brutal de trabalhadores e trabalhadoras, da depredação ambiental, do patriarcado e do racismo estrutural que caracterizam o capitalismo e sua conformação específica no Brasil, esse “moinho de gastar gente” de que falava Darcy Ribeiro. O contraponto mais efetivo ao assalto fascista aos três Poderes é o fortalecimento da luta popular, que, ao enfrentar as engrenagens desse moinho, fatalmente se choca com os mandantes e financiadores do 8 de janeiro. Exemplo disso ocorreu em abril de 2013, quando centenas de indígenas ocuparam o plenário da Câmara dos Deputados, sem pedirem licença, em protesto contra uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, que ameaçava gravemente o processo de demarcação de terras dos povos originários. Os indígenas enfrentavam, ali, a bancada ruralista, patrocinada pelo mesmo agronegócio que viria a participar do financiamento ao ataque golpista do início deste ano.
Décadas antes, em 1984, manifestações pelas “Diretas Já!” chegaram a ocupar a marquise do Congresso Nacional, para citar uma imagem emblemática que se repetiria em um dos momentos mais marcantes dos protestos de Junho de 2013. Não há nenhuma equivalência possível entre o show de horror bolsonarista do dia 8 de janeiro e os legítimos meios de pressão popular sobre as instituições, e inclusive a ocupação pelo povo dos órgãos de representação. São atos políticos tão opostos quanto fascismo e antifascismo.


Direita: Indígenas ocupam Plenário da Câmara dos Deputados, em abril de 2013. Foto: EBC.
A resistência subiu a rampa: simbolismo ou contágio profanador?
As forças capazes de desativar as fontes do poder da extrema direita apareceram em outra imagem forte do início deste ano, quando Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto para receber a faixa de presidente da República, de braços dados com oito cidadãos e cidadãs que representam, conforme a divulgação oficial da Presidência, a diversidade do povo brasileiro. Além desses oito briosos brasileiros, do vice-presidente e sua esposa, Lula foi acompanhado da primeira-dama, Janja, e da cachorrinha “Resistência”, que ela conheceu e adotou no acampamento Lula Livre, em Curitiba.

O nome da simpática companheira canina chama a atenção para um conteúdo político fundamental daquele ato simbólico: as pessoas escolhidas para entregarem a faixa oficial ao novo presidente representavam, além da diversidade, as lutas do povo brasileiro, a sua tenaz resistência política que forjou a história de Luiz Inácio Lula da Silva e o conduziu mais uma vez à Presidência da República. Cada uma delas trazia uma experiência de militância em organizações coletivas (de indígenas, catadoras de materiais recicláveis, metalúrgicos, coletivos culturais da periferia, movimento anticapacitista, entre outras), inclusive na mobilização pela libertação de Lula, no período em que esteve preso por efeito da farsa da Lava-Jato.
É possível enxergar nessa poderosa imagem, portanto, uma dupla camada de significados: junto ao retorno do indispensável compromisso inscrito no lema do primeiro governo Lula – “Brasil, um país de todos” -, a noção de que a conquista da democracia depende da luta e organização popular.
O Cacique Raoni Metuktire estava presente na ocupação indígena do plenário da Câmara dos Deputados, em abril de 2013, e subiu a rampa do Palácio do Planalto de braços dados com Lula no dia 1º de janeiro deste ano, como se vê nas fotos. É interessante compararmos esses dois momentos. Os indígenas realizaram uma ação profanadora, rompendo o cerco imposto por uma instituição representativa liberal-colonial que os exclui politicamente como uma das ferramentas para espoliá-los de suas terras. Já no caso dos cidadãos subindo a rampa com Lula, o rito era de consagração do presidente: era Lula quem estava sendo investido no poder.
Ao receber a faixa presidencial daqueles representantes de diversas lutas sociais, esse rito adquiriu um contorno profanador simbólico, representando a reconquista do poder pelo povo. Ocorre, no entanto, que a profanação da democracia, isto é, sua reapropriação pelo povo, só pode ser exercida pela ação direta das pessoas comuns; por definição, ela não se reduz a meros símbolos de legitimação de representantes. Por outro lado, dizia Agamben que “uma das formas mais simples de profanação”, na Antiguidade, ocorria por meio do contágio “no mesmo sacrifício que realiza e regula a passagem da vítima da esfera humana para a divina. Uma parte dela (as entranhas) está reservada aos deuses, enquanto o restante pode ser consumido pelos homens. Basta que os participantes do rito toquem estas carnes para que se tornem profanas e possam ser simplesmente comidas”. No próprio rito de consagração de Lula, ele foi contagiado pelo toque mundano do povo.
A questão a ser decidida na prática, durante este terceiro mandato de Lula, é se aquela representação da luta do povo subindo a rampa terá funcionado como mero ícone de legitimação da passagem do poder ao presidente ou como contágioprofanador que demarca o compromisso com uma agenda de democratização radical dos aparelhos do Estado, e com uma nova abertura para respeitar e valorizar a ação autônoma da rebeldia popular, não apenas a sua canalização para os ambientes participativos instituídos pelo governo. Cabe a nós disputar a orientação política deste novo mandato de Lula para que ele caminhe nesse segundo sentido.
O direito achado na rua: ação direta como profanação democrática da justiça
À agressão fascista ao Poder Judiciário, devemos opor a profanação da justiça: a construção democrática do direito na rua, segundo a concepção de Roberto Lyra Filho, referindo-se às práticas dos movimentos sociais que não apenas enunciam direitos, mas se organizam para lhes garantir eficácia, inclusive de modo extralegal ou contra legem. O jurista brasileiro e Agamben, não obstante suas diferenças teóricas e políticas, compartilham a percepção de que a ação coletiva de pessoas comuns é capaz de restituir para o uso criativo da sociedade aquilo que a estrutura do Estado capitalista separou como propriedade exclusiva de suas instituições, a exemplo da administração da justiça e da produção do direito.
Para Lyra Filho, o pluralismo jurídico é um fato da realidade: existem na sociedade “juridicidades contrastantes”, para além das leis e do Estado. Sua concepção do “Direito Achado na Rua”, além de pluralista, é dialética, porque entende que há uma disputa hegemônica entre povos, classes e grupos sociais antagônicos – exploradores e explorados, opressores e oprimidos – para definir quais ordenamentos serão identificados como legítimos. O direito legítimo não é necessariamente aquele que emana do Estado, diz Lyra Filho, mas o que “nasce na rua, no clamor dos espoliados e oprimidos” – que assim se autoconstituem como “sujeitos coletivos de direito”, segundo formulação de José Geraldo de Sousa Junior.
Basta olhar para as lutas sociais e se verá a sua incessante dimensão instituinte de direitos, na concepção de Lyra. É o que acontece, por exemplo, quando trabalhadores realizam greves, ou movimentos sem-terra e sem-teto ocupam latifúndios e terrenos para avançar na luta pelas reformas agrária e urbana populares, para garantir a materialização dos direitos à alimentação, à moradia, à cidade e ao trabalho, entre outros.
A proposta aqui não é simplesmente a de que legisladores e juízes “ouçam as ruas”. Aliás, reaprendemos nos últimos 10 anos que a extrema-direita também se mobiliza nesse espaço. Não há, na proposta teórica de Lyra Filho, uma idealização ingênua das ruas, e sim o seu reconhecimento como um palco privilegiado, historicamente, para a luta por emancipação social (embora essa luta aconteça também no interior dos próprios espaços privados). À luz de seu humanismo dialético, a rua é uma metáfora que designa não simplesmente um espaço público supostamente neutro, mas a auto-organização popular, em luta contra a opressão, a exploração e a espoliação. Os protestos da extrema-direita são o oposto disso, no seu conteúdo e nas suas formas.
Além disso, trata-se de compreender que os movimentos sociais instituem direitos pela sua própria práxis, pela estratégia da ação direta, e não somente quando esta leva à alteração do direito estatal. Veja-se o caso dos movimentos de mulheres em diversos países da América Latina, narrado por Mariana Prandini Assis: “as feministas organizadas pelo aborto autônomo, ao tornar a experiência uma vivência de afeto, cuidado digno e empoderamento, contribuem também para a mudança dos entendimentos sociais sobre o aborto. Elas garantem acesso ao mesmo tempo em que combatem o estigma e disputam as narrativas na opinião pública”. As feministas não se limitaram a pressionar o Estado, mas se organizaram para garantir por si mesmas o direito ao aborto e disputar a legitimidade social em torno à sua ação jurígena (produtora de direitos), realizando práticas de uma “pedagogia da justiça”, segundo conceitua Érika Medeiros. O mesmo se aplica aos mais diversos movimentos sociais: as conquistas efetivas de direitos não passam necessariamente pelo reconhecimento ou mediação do Estado, e muitas vezes desafiam suas normas e aparatos.
Disputar o Estado e sua juridicidade é parte da dialética social do direito; uma parte relevante, mas não a sua integralidade. Essa é também a perspectiva de Mariana Prandini Assis, que conclui: “Os sistemas feministas de atenção ao aborto autônomo combatem os males decorrentes tanto da medicalização quanto da criminalização do aborto. (…) Já é passada a hora de que as políticas públicas de saúde reprodutiva aproximem-se desses sistemas para, a partir deles, aprender e com eles cooperar. Essa aproximação pode produzir um sistema simbiótico emancipador, no qual a reprodução seja um espaço de potência e liberdade para todas nós”. Como diria Antonio Negri, é preciso lutar “dentro e contra” o Estado – conforme têm feito, aliás, o conjunto de organizações, a exemplo da Coalizão Negra por Direitos, que lançaram a campanha para que Lula indique uma Ministra negra para o STF: https://ministranegranostf.com.br/.
Disputar as ferramentas da casa-grande
Marx observou na Comuna de Paris, em 1871, quando uma insurreição operária e popular tomou o poder da cidade, a “forma política finalmente descoberta sob a qual se podia realizar a libertação econômica do trabalho”. Quando “os trabalhadores simples ousaram, pela primeira vez na história, violar o privilégio do Governo de seus ‘superiores naturais’, dos proprietários”, eles criaram novas instituições, inclusive para a administração da justiça. “Tais quais todos os demais servidores públicos, as autoridades judiciárias passaram a dever ser eleitas, responsáveis e revogáveis, a qualquer tempo”, relata Marx. Além disso, o seu salário era próximo àquele de um operário, assim como os de todos os demais servidores públicos: “os títulos adquiridos e os honorários de representação dos altos dignitários do Estado desapareceram, juntamente com esses mesmos dignitários”.
“A classe trabalhadora não pode simplesmente apoderar-se da máquina estatal e utilizá-la segundo seus próprios interesses”, comentou Marx ao analisar a experiência da Comuna; “o instrumento político para sua escravização não pode servir como instrumento político para sua emancipação”. A chave, aqui, é a necessidade de romper a separação entre economia e política que o capitalismo estabelece como fundante do Estado. Segundo explica Ellen Meiksins Wood, essa separação é uma das raízes da dominação tirânica estabelecida pelo capital sobre o trabalhador no âmago mesmo da sua atividade produtiva, independentemente de o regime político estatal ser democrático ou não. “Ninguém se incomoda muito, afinal, que a política seja democrática, desde que a economia não o seja”, dizia Eduardo Galeano.
Para a democracia socialista não basta que as classes populares tornem-se dirigentes do aparato do Estado, portanto; é preciso que elas assumam o controle direto dos meios de produção, destronando a classe dominante. Além disso, como demonstraram Alexandra Kollontai e diversas autoras feministas materialistas, a politização socializante da economia deve alcançar também os trabalhos reprodutivos e de cuidado, retirando-os do espaço privado e doméstico em que o patriarcado procura confiná-los. Esse programa é também decisivamente antirracista, considerando como os trabalhos de cuidado recaem predominantemente sobre mulheres negras e indígenas, na América Latina, ou imigrantes, em diversos países, sempre de maneira altamente precária.
A necessidade de superação do Estado como forma política capitalista não significa, no entanto, que devamos abdicar da luta por reformá-lo, quando não se apresentem possibilidades revolucionárias. O próprio Marx, aliás, discordava dos autodeclarados “marxistas” que menosprezavam a relevância das lutas dos trabalhadores por arrancar do capitalismo, inclusive pela via eleitoral, conquistas como o salário-mínimo, a redução da jornada de trabalho ou liberdades democráticas. “Se esses são os marxistas”, disse Marx uma década depois da Comuna, “então eu não sou marxista”. Não é possível superar a barbárie capitalista nos marcos de suas próprias instituições, mas é possível e necessário disputá-las, em diferentes conjunturas, como táticas de fortalecimento material e subjetivo da organização política da classe trabalhadora (ainda que com atenção aos riscos de que o exato oposto possa se produzir, por força das dinâmicas de burocratização).
Audre Lorde escreveu que “as ferramentas do senhor nunca derrubarão a casa-grande. Elas podem possibilitar que os vençamos em seu próprio jogo durante certo tempo, mas nunca permitirão que provoquemos uma mudança autêntica”. Costuma-se citar essa frase para acentuar a necessidade de que os grupos oprimidos, para se emanciparem, construam suas próprias ferramentas epistêmicas e políticas. De fato, isto é o central do texto, de significado muito próximo ao dos comentários de Marx sobre a Comuna de Paris – evidenciando como diferentes lutas contra a opressão geraram aprendizados estratégicos afins. Mas chamo a atenção também para a parte da frase por vezes esquecida: vencer a casa-grande temporariamente em seu próprio jogo não é algo necessariamente desprezível. Em determinados contextos, pode ser crucial.
Por uma Conferência Nacional sobre a reforma democrática do sistema de justiça
Temos a obrigação de disputar o Poder Judiciário e o Ministério Público na perspectiva da sua democratização, reduzindo sua hostilidade aos movimentos sociais, criminalizados diariamente ao arrepio da Constituição – manifestação da renitente hermenêutica senhorial que caracteriza nossa cultura jurídica, atuando por meio do princípio da ilegalidade, fundamento do casuísmo racista estrutural (aquele mesmo que estabelece se uma pessoa com uma pequena quantidade de drogas é usuário ou traficante a depender da cor da sua pele e do seu CEP), segundo a análise histórica e a elaboração conceitual de Marcos Queiroz. A operação Lava-Jato, com seus procedimentos de exceção e abusos sistemáticos filtrados pela seletividade político-ideológica conservadora, foi mais um capítulo do hábil manejo desse princípio pelos juristas brasileiros.
Algumas iniciativas têm atuado no Brasil para construir programas e estratégias de democratização do sistema de justiça, articulando experiências e elaborações políticas de movimentos sociais, de núcleos de assessoria jurídica popular, de organizações como a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP), a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Quilombolas (RENAAQ), a Associação Juízes para a Democracia, a Federação Nacional de Estudantes de Direito (FENED) e coletivos como o Transforma MP. Dentre essas articulações amplas, citamos a Articulação Justiça e Direitos Humanos – JusDH, o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia (FSMJD) e a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, que tem como um de seus eixos a democratização do sistema de justiça. Mais recentemente, como citado antes, um conjunto de entidades tem impulsionado a campanha para que Lula indique uma ministra negra para o STF, e um movimento mais amplo de luta para que tenhamos tribunais com paridade de gênero e a devida representação de pessoas negras e indígenas.
Essas articulações amplas, envolvendo movimentos sociais e organizações com vínculos estreitos com eles, devem ser a referência fundamental de interlocução dos partidos de esquerda e do governo federal para elaborar suas estratégias de democratização do sistema de justiça e para ações concretas a esse respeito, a começar pelos critérios e processos para as indicações de ministros do Supremo e de outros tribunais superiores, bem como de Cortes internacionais, desembargadores, Procurador-Geral da República e para os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, entre outros cargos.
Caberia discutir com esse campo, por exemplo, se é ou não pertinente que o governo organize uma Conferência Nacional para deliberar, de modo amplo, diverso e democrático, sobre propostas para a democratização do sistema de justiça. Uma possível inspiração é a “Conferência de Justiça Plural para o Bem Viver”, organizada pelo governo Evo Morales na Bolívia, em 2016. Acompanhei essa conferência como observador, na qualidade de pesquisador, e presenciei alguns magistrados de tribunais superiores participando, em pé de igualdade, de acalorados debates em plenárias com dezenas de autoridades de justiça indígena, feministas comunitárias, membros do Ministério Público, professores universitários, dirigentes de associações de bairros, advogados, tabeliães de cartório e juízes de primeira instância.

Presenciei também um magistrado do Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, o Tata Efren Choque, participando de um ato público organizado durante o “Encontro Plurinacional de Autoridades de Justiça Indígena Originária Campesina”, autoconvocado pelo movimento indígena, às vésperas da Conferência organizada pelo governo. Choque, da etnia aymara, ocupava uma das vagas reservadas a juízes indígenas no Tribunal, conquista inscrita na Constituição de 2009. Pode-se vê-lo na foto de sandálias, na praça central de Sucre, com o microfone que utilizou para falar primeiro em aymara e depois em espanhol. Ainda que o sistema de justiça na Bolívia permaneça com sérios problemas estruturais, precisamos voltar nossos olhos para experiências como essa, deixando de lado a velha obsessão colonizada com a Europa e os Estados Unidos.
Na reforma democrática do sistema de justiça, há dois descaminhos a serem evitados pelos governos e partidos de esquerda. O primeiro é o de adotar como método principal, nas indicações para tribunais e outros órgãos nacionais, estaduais e internacionais, e na formulação de uma política para a justiça, a velha lógica do conchavo a portas fechadas com grupos de interesses conservadores (do Congresso, de setores econômicos, de igrejas) e corporações jurídicas. O segundo é o de restringir a interlocução fundamental, nesse campo, aos setores progressistas da elite da advocacia privada e do topo das carreiras jurídicas públicas. Esses profissionais têm valiosas contribuições a oferecer, não há dúvidas. Entretanto, uma política de democratização da justiça elaborada nos convescotes da elite, ainda que de intenções progressistas, já nasce morta, inepta a realizar o fim em tese pretendido.
Apostemos na profanação, no caminho das ruas. No Brasil de baixo (ou “Brasi de Baxo”), como dizia Patativa do Assaré: aquele que elegeu o presidente Lula e subiu a rampa com ele.
Sobre os autores
João Telésforo
é doutorando em Direito Econômico e Economia Política na USP e pesquisador no King’s College London.