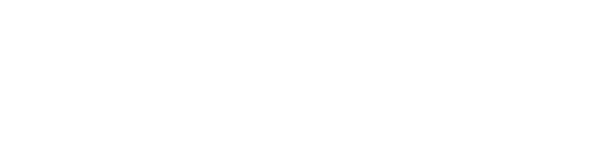O texto a seguir está na 5ª edição impressa da Jacobin Brasil. Adquira a sua edição avulsa ou assine um de nossos planos!
Na tarde do dia 19 de novembro de 1978, estádio do Morumbi, jogavam Guarani e Corinthians pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Paulista. O time de Campinas era a sensação do momento. Campeão brasileiro há três meses, time da melhor campanha na fase de grupos e dono de uma seleção comandada por Zenon, Zé Carlos, Bozó, Renato e Capitão.
Para a sorte do time do Parque São Jorge, Careca não foi a campo por estar contundido. Do outro lado, Sócrates, Zé Maria, Wladimir, Biro-Biro, Vaguinho, Palinha e Basílio. Craques que marcariam época no campo e, alguns deles anos mais tarde, na luta pela democracia. Num jogo recheado de emoções, o Corinthians abriu 2×0 no placar e viu o Guarani empatar nos minutos finais do tempo regulamentar. A definição só viria a 2 minutos do fim da prorrogação. Palhinha foi derrubado na área. Pênalti. Zé Maria correu para a marca da cal, deslocou Neneca e a bola estufou as redes lá no alto. 3×2, vitória do Timão.
83.419 pessoas acompanhavam eletrizadas na arquibancada o que se passava em campo. Entre elas, Lula e seus amigos Devanir, Janjão e Alemão. Diante daquela atmosfera catártica, em êxtase com o delírio pulsante da multidão, o futuro presidente da República profetizou: “Puta merda, Alemão! No dia em que fizermos uma assembleia com metade dessa gentarada, viramos o Brasil de ponta-cabeça”.
“Era um ponto de virada na luta da classe trabalhadora, estilhaçada pela repressão da Ditadura.”
Menos de 4 meses depois, dia 13 de março de 1979, no centro do gramado da Vila Euclides em São Bernardo do Campo, sem microfone e sobre um conjunto de mesas improvisadas, Lula discursaria para 40 mil trabalhadores. Estava inaugurado o ciclo de dezoito assembleias no estádio, das quais doze contariam com um público superior a 50 mil pessoas. A maior delas, em resposta às prisões de Lula e outras lideranças sindicais, contou com 150 mil. Era um ponto de virada na luta da classe trabalhadora, estilhaçada pela repressão da Ditadura; na história de Lula, pois suas performances de craque na Vila Euclides o transformariam em figura de transcendência nacional; e nas Greves do ABC, alçadas ao palco principal do processo de redemocratização.
Naquela tarde de Morumbi lotado de gente, o gênio de Lula traçava o campo do embate entre sindicalismo e patrões. Num contexto de sufocamento dos espaços públicos pelos militares, era melhor jogar em casa, num local ao qual os trabalhadores estavam habituados. Nada melhor que um estádio de futebol. Dentro das quatro linhas, seriam definidos não só os rumos das paralizações, mas o destino Brasil.
Anos mais tarde, a relação entre Lula e futebol seria amplamente conhecida pelas metáforas esportivas para falar de política. Tidas como anedóticas, vulgares, despolitizantes ou, para certos iluminados, uma amostra do rebaixamento de projeto e da ausência de consciência política do presidente, estas metáforas talvez revelem justamente o oposto. Assim como a escolha da Vila Euclides para ser o tablado das Greves do ABC, os vínculos do presidente com o futebol apontam para uma sagaz, popular e singular compreensão da luta de classes no Brasil.
Driblando à brasileira
O drible é o grande elemento distintivo do futebol brasileiro. Sua essência é encontrar saídas onde não há espaços. Com astúcia e destreza, ele surge na encruzilhada entre habilidade, espontaneidade e limites impostos pela circunstância. O pé passando sobre a bola, o fingir ir para um lado e sair pelo outro, o breque brusco, a pedalada, o elástico, o chapéu. Infinitas formas de ludibriar, quebrar linhas de defesa e desorganizar o esquema tático do adversário. Contra a rigidez do jogo, a finta é um elemento desestabilizador capaz de decidir jogos.
Essa arte boleira foi decisivamente revelada para o mundo na Copa de 1938, quando o escrete canarinho, liderado por Leônidas da Silva, ficou conhecido pela imprensa francesa como malabarista e acrobata. Isso talvez porque os europeus desconhecessem o Brasil, pois na verdade os jogadores não eram acrobatas e malabaristas, mas sim sambistas.
“Diante do racismo aberto que imperava no início da popularização do esporte no país, os juízes apitavam de acordo com a cor do jogador.”
O filósofo Renato Noguera argumenta que o drible no futebol é uma invenção da população negra. Diante do racismo aberto que imperava no início da popularização do esporte no país, os juízes apitavam de acordo com a cor do jogador. Se negro, não podia fazer nada que a falta era assinalada. Se branco, podia até bater. Assim, o drible nasceu como “uma transposição dos passes e ginga do samba para o interior das quatro linhas”. Era estratégia utilizada para superar os marcadores brancos e, especialmente, as regras de exclusão social que conformam o jogo.
O drible é o miudinho do samba. É também, ensina Noguera, o dibo, do kikongo, que significa dançar com as palavras. Essa manipulação da língua falada é central na tradição da resistência subalterna no Brasil, pois a raiz escravocrata gerou uma sociedade na qual os de baixo não são vistos como interlocutores legítimos pelos de cima. Fora da patronagem e das hierarquias naturalizadas, não há espaço para uma comunidade de cidadãos. Dessa forma, reivindicações de direitos em pé de igualdade têm como resposta a violência autoritária da classe dominante.
Assim, desde os tempos da Casa-Grande, os trabalhadores tiveram que adotar táticas de luta atravessadas pela camuflagem, dissimulação e disfarce. Uma política da visibilidade-invisibilidade, diria Nohora Fernández. No contexto de repressão absoluta, era necessário ter a sabedoria de que, na grande maioria das circunstâncias, bater de frente abertamente era se expor à mais visceral brutalidade da classe dominante.
Nesta luta de classes constituída por mecanismos implícitos, difusos e ocultos de resistência, o esconderijo se fez não só nos campos e nas cidades, mas também nas palavras, introduzindo-se na nossa língua falada. Dizer por meio do não-dito, circularidade e espirituosidade, cadência rítmica e modulações faceiras na entonação, inversões ao aceitar ou ao recusar uma ordem, ironia, palavreado gingado e malemolente de idas e vindas até chegar no ponto, zoação e comicidade ácida, frases e risadas desautorizadoras, duplo sentido, elogio que esconde um ataque feroz, apologia que se confunde com crítica, ambiguidade, metáfora mundana recheada de múltiplos sentidos, o samba que entra macio nos ouvidos falando de desilusões amorosas para entregar, também, denúncia social.
Na ponta da língua, carregamos séculos de construção cifrada da resistência. A capacidade de se comunicar sem se comprometer, se autodenunciar e colocar um alvo nas costas. Diante da rigidez vertical e excludente do espaço público, a dança das palavras é forma de afirmar – ainda que ocultamente – convicções e interesses. O drible nasceu como adaptação e atualização dessa tradição forjada na fresta entre negociação e conflito.
“Como um drible que desgasta o esquema tático da exclusão, a metáfora futebolística carrega um programa político de aproximação da classe trabalhadora dos espaços de tomada de decisão.”
No âmbito nacional, essa tradição talvez tenha em Lula o seu herdeiro mais influente. Desde o início da sua ascensão política, diante de um cenário no qual a Ditadura havia fechado os canais de reivindicação dos trabalhadores, aos tempos de Palácio do Planalto, que jamais fizeram com que ele fosse visto como um igual, o presidente fez do drible estratégia política. Avançar conquistas sociais despressurizando o antagonismo direto; utilizar a criatividade para provocar fissuras em favor dos setores populares; transformar e melhorar o destino de milhões sem uma batalha a céu aberto, seja por saber das estruturais circunstâncias desfavoráveis, seja por temer o custo que tal enfrentamento levaria justamente aos trabalhadores; reinventar, no sentido Sul-Sul, a geopolítica internacional esgueirando-se do fervor imperialista; e (por que não?) crer e se valer sabiamente do acaso quando ele surge, pois, nas encruzas brasileiras, todo esquematismo é frágil. Com maior ou menor sucesso, fintas políticas baseadas numa astuta compreensão do lugar do Brasil na história e no mundo.
Nesta relação entre Lula e futebol, a facilidade de mobilização metafórica do esporte revela também o compromisso de massificação – de fazer visível o que estava invisível. O léxico boleiro realiza um duplo movimento: insere sutilmente a cultura popular no estreito palco da democracia brasileira, tão acostumado somente ao esnobismo dos ternos e gravadas ou à truculência das fardas e coturnos; e, desse palco, codifica uma mensagem, que na forma e no conteúdo, carrega uma distintividade subalterna. No que para alguns parece prosaico, na verdade trata-se de circular um imaginário no qual a Praça dos Três Poderes mimetiza a ética das conversas do chão de fábrica ou de mesa de bar, para ficar nos lugares que Lula sempre gosta de recordar.
Como um drible que desgasta o esquema tático da exclusão, a metáfora futebolística carrega um programa político de aproximação da classe trabalhadora dos espaços de tomada de decisão. Encarna, também, a crença na convergência de interesses em favor dos mais vulneráveis. Pois como lampejos de um camisa 10 que parecem surgidos em síntese com o estádio lotado, Lula sabe que só é possível revirar este país em compasso com as paixões e dramas da vasta maioria de sua população.
Sobre os autores
é editor da Jacobin Brasil e Doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).